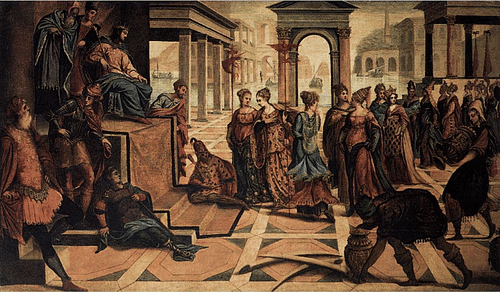Entre 850 a.C. e 1600 d.C., grandes civilizações prosperaram na África e, ainda assim, poucos não-africanos sabem sobre elas. Enquanto alguns possam estar familiarizados com as realizações do antigo Egito, a maior parte de nosso conhecimento da história africana é maculada pelo legado do colonialismo, racismo e preconceito. À medida que os europeus se engajavam na disputa pela África entre os séculos XVII e XIX, eles estabeleceram sistemas que romperam as tradições orais que preservaram a história africana e, além disso, criaram suas próprias narrativas para justificar a ocupação das terras e a escravidão de seus povos.
Para reforçar estas narrativas, historiadores e arqueólogos europeus ignoraram ou manipularam a evidência das grandes civilizações africanas ao seu redor. Sua meta era descobrir provas de uma tribo branca perdida, cujo período na África precederia a existência dos africanos negros, estabelecendo, desta forma, uma reivindicação legítima dos territórios que estava colonizando. O legado destas iniciativas é uma série de estereótipos e incompreensões sobre o continente e seu povo, incluindo a crença errônea de que os africanos não têm história.
Ainda que grandes esforços tenham sido feitos para descobrir a verdadeira história da África, o impacto do preconceito colonial ainda persiste. Algumas das mais claras ilustrações deste impacto podem ser encontradas quando se examina tanto as ruínas da Grande Zimbábue quanto os historiadores, arqueólogos, exploradores e colonialistas que tentaram negar sua verdadeira história.

Atualmente, as ruínas da Grande Zimbábue são um Patrimônio Mundial da UNESCO e um importante símbolo da história da moderna nação do Zimbábue. Situadas num platô elevado, entre o Rio Limpopo, ao sul, e o Rio Zambeze, ao norte, as ruínas de pedra incluem um palácio, uma torre cônica e vários recintos murados. Os construtores originais, ancestrais do povo Xona, cortaram os blocos de pedra com tanta perícia que não precisaram de argamassa. As ruínas estão em grande parte intactas e foram isoladas das ameaças modernas da poluição e urbanização. O local tem significado espiritual para os Xona e algumas ruínas ainda são utilizadas em cerimônias religiosas.
A Verdadeira História da Grande Zimbábue
Acredita-se que a Grande Zimbábue originalmente abrigou a capital de um reino poderoso e próspero. As estruturas que compõem as ruínas foram construídas provavelmente entre os séculos XI e XV pelos Xona, uma tribo falante do idioma Banto que migrou originalmente da África meridional no século II d.C.
Os reis da Grande Zimbábue controlavam milhares de quilômetros de território, mas não conquistavam suas terras com um enorme exército. O soberano recebia sua autoridade para governar através de sua conexão especial com os espíritos dos governantes falecidos, que lhes ofereciam orientação. Este elo místico com os ancestrais permitia-lhe exercer controle espiritual sobre os governantes de povoados menores da região.
O rei também se responsabilizava pelo fornecimento de alimentos para o povo. Ele possuía milhares de cabeças de gado e provavelmente supervisionava o armazenamento e distribuição de grãos excedentes. Alguns acadêmicos acreditam que a famosa torre cônica da Grande Zimbábue representava uma grande caixa de armazenamento simbólica e, assim, um lembrete do papel real na sobrevivência da comunidade como um todo.
Durante a estação seca, os fazendeiros da Grande Zimbábue se tornavam mineiros de ouro, o que contribuía imensamente para a prosperidade do império. Junto com o marfim, o ouro representava um dos seus maiores artigos comerciais. A Grande Zimbábue obtinha mercadorias de todos os cantos do mundo através dos portos comerciais dos suaíle, na costa leste africana. O grande volume de evidências encontradas no sítio ajuda a comprovar a conexão da Grande Zimbábue a esta rede comercial global. Os arqueólogos desenterraram uma moeda árabe do século XIV, algumas cerâmicas persas do século XIII e porcelanas e contas de vidro chinesas da Dinastia Ming.
Infelizmente, durante o período colonial, muitas das evidências das bem-sucedidas redes comerciais da Grande Zimbábue foram manipuladas para apoiar teorias de que uma tribo caucasiana havia construído o sítio. A descoberta de moedas árabes e cerâmica persa serviu para atribuir o sítio a construtores árabes, não nativos africanos. Distorcendo ainda mais a verdadeira história do local, os mais recentes registros históricos sobre a Grande Zimbábue foram escritos no século XVI, muito depois do abandono do sítio, e a maioria destes documentos é de autoria de europeus, que tinham pouco interesse em preservar de maneira acurada a história da civilização africana.
Kalr Mauch e a Rainha de Sabá
Karl Mauch (o primeiro nome às vezes é soletrado como Carl), explorador e geólogo alemão, estava procurando ouro e pedras preciosas quando topou com o sítio, em 1871. Os preconceitos de Mauch influenciaram suas teorias sobre as ruínas. Ele não acreditava que fosse possível para os nativos americanos construir estruturas tão sofisticadas. Em seus diários, ele alegava que os africanos locais com os quais tinha conversado disseram que viviam na área há apenas cerca de 40 anos, e todos estavam bastante “convencidos de que os brancos já tinham habitado a região” (Mauch, citado em Africa: A History Denied).
Os diários estão repletos com desenhos de artefatos descobertos no sítio. Um exame destes desenhos mostra que são de origem africana mas, ainda assim, Mauch nunca reconheceu este fato. Em vez disso, esforçou-se bastante para relacionar as ruínas a personagens da Bíblia. Ele acreditava ter descoberto a cidade de Ofir, um rico entreposto comerciais ou cidade portuária mencionada na Bíblia, e que as ruínas tinham sido nada menos do que o palácio da governante legendária da cidade, a Rainha de Sabá. De acordo com a narrativa bíblica, a Rainha de Sabá vinha de uma terra muito rica e, quando visitou o rei Salomão, em Jerusalém, trouxe consigo presentes valiosos, incluindo ouro, especiarias e pedras preciosas.
Mauch tinha poucas evidências para apoiar sua teoria. Ao explorar o sítio, descobriu vigas de cedro que presumiu serem provenientes do Líbano. Ele concluiu que somente mercadores fenícios podiam ter fornecido este material, que também teria sido usado para construir os palácios de Salomão. Então, teorizou que a Rainha de Sabá ergueu as estruturas em pedra para imitar o palácio de Salomão, em Jerusalém.
Ainda que houvesse pouca evidência física ou documentação para apoiar a teoria de Mauch, suas especulações foram apoiadas pelos colonizadores brancos, ocupados em ocupar terras na área para o Império Britânico. Eles aceitaram a falsa narrativa porque proporcionava um elo entre a civilização europeia e os territórios que se apropriavam.
Theodore Bent, Richard Hall e os Fenícios
Em 1891, as ruínas da Grande Zimbábue integravam o território administrado pela Companhia Britânica da África do Sul, mais tarde chamado Rodésia Meridional e então Rodésia, numa homenagem ao fundador da empresa, Cecil Rhodes. Nesta época, o arqueólogo Theodore Bent ficou encarregado do sítio. Liderando uma expedição da Sociedade Geográfica Real e da Associação Britânica para o Avanço da Ciência, Bent se deparou com pássaros esculpidos em pedra que sentiu serem similares a artefatos que vira enquanto estudava as civilizações do Oriente Próximo e do Mediterrâneo. Esta evidência inadequada levou Bent a concluir que o sítio havia sido construído pelos fenícios e que os africanos só se transferiram para lá quando os fundadores abandonaram a região.
Esta teoria foi uma das muitas que os colonialistas britânicos aceitaram e promoveram para justificar reivindicações brancas às terras africanas. Teorias posteriores atribuíram o sítio aos antigos egípcios, náufragos vikings e até aos míticos habitantes da Atlântida.

Em 1902, Rhodes contratou o arqueólogo e jornalista Richard Hall para examinar e preservar o sítio. Hall logo publicou um livro, The Ancient Ruins of Rhodesia, que apresentava suas descobertas e no qual afirmava que a Grande Zimbábue havia sido construída por “raças mais civilizadas” (citado em Ampim, par. 4). Ele iniciou entãoum período de “restauração” que removeu camadas de sedimento de até dois metros de profundidade em todo o sítio, com o objetivo de remover “a sujeira e decadência da ocupação [africana]” (ibid). Neste processo, ele destruiu muitos registros arqueológicos que poderiam ter provado conclusivamente a origem africana das ruínas.
O Uso de Estatigrafia por Gertrude Caton-Thompson
Muitos daqueles autorizados a investigar o sítio no início do século XX eram pouco mais do que caçadores de tesouros, que destruíam evidências valiosas na busca por artefatos de ouro e outros artigos valiosos. Suas ações tornariam a datação e estudo apropriados do sítio mais difícil para os historiadores e arqueólogos posteriores. Uma das que lutaram para descobrir a verdade por trás deste legado de destruição foi Gertrude Caton-Thompson, pioneira da moderna arqueologia, que estudou o sítio em nome da Associação Britânica para o Avanço da Ciência.
Caton-Thompson acreditava que as teorias iniciais sobre o sítio eram absurdas e decidiu ser muito mais cuidadosa e deliberada no exame das ruínas. Ela usou a estatigrafia, uma das técnicas primárias da moderna arqueologia, para datar com maior precisão seus achados, mas teve dificuldades devido à destruição de evidências por seus predecessores. A arqueóloga utilizou um avião para avistar ruínas intocadas e conseguiu localizar um novo conjunto de cercamentos murados que permitiu a datação mais precisa do sítio, derrubando as teorias errôneas de Mauch, Bent e Hall.
As evidências que ela descobriu indicam que o sítio era bem mais novo que se acreditava anteriormente, tornando, assim, impossível relacioná-lo a antigas figuras ou civilizações bíblicas. Em seu livro Zimbabwe Culture, a arqueóloga concluiu que a Grande Zimbábue foi construída durante o período medieval por uma civilização africana nativa de “originalidade e dedicação maravilhosas” (citado em Hall e Stefoff, 17). Caton-Thompson também argumentou que os artefatos relacionados a civilizações não-africanas eram evidências de relacionamentos comerciais e não a comprovação de que uma civilização Árabe ou do Oriente Próximo construiu o sítio.
A despeito de seus esforços para atribuir o local a seus verdadeiros construtores, as teorias de Caton-Thompson também traziam claras influências de racismo. Uma peça de evidência que usou para apoiar suas descobertas foi a estrutura circular das ruínas. Ela acreditava que isso provava a origem africana da Grande Zimbábue porque o povo local também usava projetos circulares para erguer suas casas e vilas. Então, deixando seu preconceito aflorar, a arqueóloga acrescentou que, se uma civilização mais avançada tivesse construído o sítio, usaria linhas retas e ângulos retos nos muros e prédios.
Keith Robinson Usa Datação por Radiocarbono
Em 1958, o arqueólogo Keith Robinson começou a utilizar datação por radiocarbono em alguns postes de madeira que encontrou durante uma escavação na Grande Zimbábue. Seus testes determinaram que a madeira veio de uma árvore cortada entre 915 e 1215, confirmando a teoria de Caton-Thompson de que a construção do sítio ocorreu na época medieval. Acadêmicos posteriores checaram os achados de Robinson com outras amostras de radiocarbono do sítio e concluíram que a maioria das construções foi erguida no auge da civilização da Grande Zimbábue, entre 1300 e 1450.

O Legado da Falsa História Continua
Os achados de Robinson e Caton-Thompson deveriam ter posto um fim nas teorias iniciais de que a Grande Zimbábue teria sido construída por uma civilização perdida, mas os mitos sobre sua história persistiram, motivados pelo viés racial e pelo desejo persistente de justificar a colonização europeia.
Em 1965, a Rodésia do Sul libertou-se do domínio britânico sob a liderança de Ian Smith, um colono branco que se declarou primeiro-ministro da nova nação. Neste período, Smith continuou a produzir falsas narrativas sobre a história da Grande Zimbábue. Os guias turísticos, por exemplo, mostravam africanos negros curvando-se submissamente aos visionários brancos que receberam o crédito pela construção dos muros circulares e do palácio do sítio.
Em 1980, os zimbabuenses nativos derrubaram o governo de Smith e ganharam independência definitiva. Eles adotaram o nome Zimbábue para se conectar à sua história ancestral. Os famosos pássaros de pedra que Theodore Bent certa vez usou como “evidência” das supostas origens fenícias do local passaram a fazer parte do emblema nacional do país. Há uma crença amplamente disseminada de que o sítio resulta do trabalho dos ancestrais do povo Xona, mas o legado da falsa história subsiste. Mesmo no website da UNESCO, que explica a importância da Grande Zimbábue como um Patrimônio Histórico Mundial, as ruínas são descritas como “a capital da Rainha de Sabá, de acordo com uma antiga lenda”. Talvez se referindo a alguma esperança de que a verdadeira história do sítio venha a ser a única que aprenderemos, a UNESCO continua discutindo as verdadeiras origens do sítio e sua importância como um “testemunho único da civilização banto dos Xona entre os séculos XI e XV”.
O impacto do preconceito na história da Grande Zimbábue é um exemplo claro de como o colonialismo maculou o estudo da história africana. O estudo apropriado das civilizações da África, dando pleno crédito aos nativos africanos por suas realizações, é parte essencial do processo de descolonização, e todos devemos fazer um grande esforço para separar a verdade dos vieses que moldaram por tempo demais a falsa narrativa da história africana.